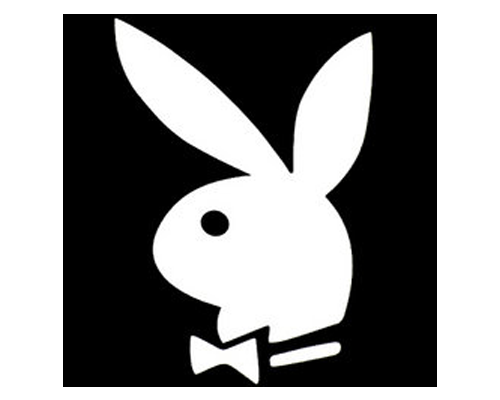Neste caso, o produto é o candidato, uma pessoa particular inserida numa plataforma partidária, uma imagem pública que se constrói sobre uma sedimentação de registos passados.
O preço é medido como um custo psicológico. Na mente do consumidor/ eleitor o que pesa efectivamente não é a selecção do melhor mas sim a escolha do menor dos males, num contexto em que são cada vez mais dúbias as diferenças ideológicas entre forças partidárias.
A promoção na política é por tradição feita sob a forma de propaganda, a ferramenta que historicamente mais se adequa ao canal, mas adquire cada vez mais os contornos de publicidade descarada materializada em outdoors, cartazes, autocolantes, camisolas e bandeiras. Os debates, os comícios, os minutos oficiais de tempo de antena são momentos privilegiados para o exercício de estratégias de promoção à desgarrada.
O placement, termo que nunca consegui igualar a nenhuma das palavras que a tradução lusa emprega, diz respeito à forma como o político faz chegar a sua mensagem ao mercado.
No caso concreto destas eleições primárias no PS, assumindo-se que a mensagem seria similar dado que comungam dos mesmos ideais do socialismo contemporâneo, a distinção entre os candidatos far-se-ia, em teoria, pela forma. Na prática, o que estava em causa não é a eficácia de cada um dos António's no exercício do cargo de líder de um partido, o maior partido da oposição, mas sim o carisma das personalidades que de forma pouco digna se digladiaram pelo cargo.
O António José Seguro é uma espécie de nem-nem com ar de menino mimado. O rapaz que não se conseguiu desagarrar da imagem de líder juvenil que o projectou para a ribalta, há-de ter os seus méritos e qualidades mas tem, como tantos comentam, claras dificuldades ao nível da comunicação, pela demagogia filosófica do seu discurso, pelo tom coloquial e melodramático com que se expressa.
O António Costa tem aquele ar de gajo porreiro, uma voz de barítono que se faz ouvir, tão potente que disfarça até a forma atabalhoada com que atropela sílabas e engole palavras. Dizem que é uma pessoa intelectualmente brilhante, diligente, decidido e vibrante. Por outro lado, especula-se que muita da obra feita em Lisboa, o palco que lhe permitiu brilhar enquanto marinava a estratégia de conquista do poder legislativo (a derrota do líder do próprio partido foi uma mera etapa), é mais show-off, festas e relações públicas, do que obra feita em quantidade e em qualidade.
Seja como for, neste despique interpartidário que se tornou de interesse nacional pelas consequências a muito curto prazo, tornou-se evidente que o produto António José Seguro era mais débil em conteúdo e mais pusilânime em embalagem; que o seu preço estava desajustado; que as estratégias de promoção que o foram mantendo sob os holofotes funcionaram pela falta de outros temas para preencher as horas das notícias não pelo conteúdo da sua mensagem; que apesar de ter tentado muito fazer-se entender, este líder que o não soube ser foi ineficaz na responsabilidade básica que um político tem de assumir para se converter num produto de massas: ser simpático.